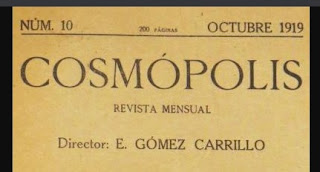2) O segundo nível diz respeito à falsidade e simulação constante no comportamento dos personagens, algo que Arlt cuidadosamente marca tanto na exterioridade quanto na interioridade: os sonhos, os delírios e os devaneios são muito frequentes, fazendo com que o tecido da "realidade" seja contaminado por esse movimento incessante de Erdosain em direção ao devaneio (ele está sempre imaginando situações possíveis, encontros, reencontros e diálogos ideais); na dimensão cotidiana e imediata das relações a simulação também é central - seja no casamento, seja nas relações entre "amigos" (o "amigo" que diz a Erdosain que o denunciou em seu trabalho para ficar com sua mulher), seja nas relações "políticas" do grupo revolucionário do Astrólogo e do Rufião Melancólico (que sempre faz questão de marca sua posição ambivalente, sempre um pouco dentro e um pouco fora).
3) Arlt capta essa potência da simulação na literatura dos cem anos anteriores, seguindo uma linha muito clara de afinidades eletivas: Poe (que em 1827 já publica poemas intitulados "Um sonho", "Imitação", "Espíritos dos mortos"), Baudelaire (La Fanfarlo, de 1847), Dostoiévski (não só as "memórias do subsolo" de 1864, mas toda a evocação do submundo anarquista em Os demônios, de 1871), Huysmans (o excêntrico Jean des Esseintes de À rebours, em 1884), Oscar Wilde (o artista Dorian Gray que se torna assassino, 1890), Nietzsche e tantos outros (o precursor argentino decisivo, argumenta Josefina Ludmer em O corpo do delito, é Soiza Reilly e seu La ciudad de los locos, de 1914).